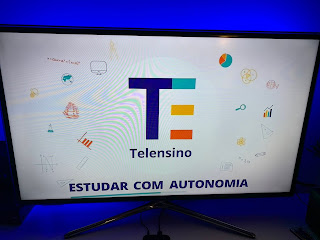Não é muito fácil elaborar um best of do ano no que respeita a livros publicados entre nós. Primeiro porque não são assim tantos os livros que se publica de filosofia em portugal. Depois porque não os leio todos. E depois porque muitas vezes passo mais tempo a ler livros que já tem uns anos do que propriamente livros acabados de sair. Mas a dizer a verdade ainda são muitos os livros que leio num ano. Nem tenho bem a conta feita, mas são mesmo muitos. Gostaria ainda assim de destacar aqui livros que, mesmo não sendo exclusivamente de filosofia, mereceram o meu tempo e destaque. Outros há que não os destaco, mesmo tendo sido lidos este ano e sendo 2020 o ano da sua edição em língua portuguesa. Não gostei deles e por isso soa-me errado estar a fazer-lhes destaque. Isto porque esta pequena lista assume um carácter inteiramente pessoal. Ao contrário do que até fiz em outros finais de ano não estou a fazer a listagem dos livros mais relevantes que saíram ao longo do ano, mas somente a destacar aqueles que mais gostei.
Começo por destacar o livro de Pedro Galvão, Três diálogos sobre a morte (Gradiva). É provavelmente o melhor livro de filosofia que me recordo ter lido escrito por um português. Porque os problemas tratados são de difícil argumentação há passagens mais sofisticadas, mas da maneira como está escrito, numa engenhosa trama de diálogos, acaba por transformar algo bem sofisticado num desafio intelectual em que o leitor sai claramente a ganhar.
Mas Galvão não se ficou por aí este ano. Além de ter também publicado um livro de ficção, uma estreia, que ainda não li, publicou também uma tradução revista do seminal texto de Stuart Mill, Utilitarismo. Para enriquecer esta edição, adicionou um conjunto de ensaios de Mill sobre Bentham e ainda uma extensa e útil introdução aos textos e à filoosfia de Mill. A edição é da Primatur.
Ainda que o livro sobre a morte de Pedro Galvão seja a todos os níveis o melhor livro de filosofia lido este ano, não poderia esquecer a importância da edição, na mesma coleção da Gradiva, a Filosofia Aberta, do livro de John Searle, Da realidade física à realidade humana. Este livro foi publicado na língua portuguesa mesmo antes de ser publicado no original em inglês, o que revela uma perspicácia pouco habitual numa área como a filosofia, principalmente de Aires Almeida, o diretor desta coleção e que tem feito um trabalho soberbo. É uma espécie do melhor da filosofia de Searle. Publicar filosofia em Portugal é muito complicado. Primeiro porque quem se interessa a valer pela área acaba por aprender a ler em inglês e traduzir determinados títulos para a nossa língua é sempre um risco demasiado elevado para os editores. Afinal, quem os vai comprar? Os mais especialistas compram em inglês e os menos especialistas não os compram. Ora, neste contexto, conseguir o que se tem feito com a Filosofia Aberta, só mesmo com muito amor à camisola.
Destacaria dois livros que não são de filosofia, mesmo que neles se refira muitas vezes filósofos. São eles o livro de Tim Harford, O que os números escondem (Objetiva) e o de Anne Applebaum, O crepúsculo da democracia (Bertrand). E porque destaco estes dois livros? O primeiro porque é uma maneira bastante interessante de nos alertar dos vieses cognitivos que constantemente cometemos na interpretação que fazemos dos acontecimentos e do modo de os evitar. E o segundo porque, também fruto desses vieses, alerta para o perigo que corremos em eleger partidos extremistas para os governos. A autora serve-se do caso da ascensão da extrema direita na Polónia e passa pelo Brexit, Trump, entre outros casos de extremismo populista. São livros bem documentados e que nos enquadra os riscos do nosso comportamento na sociedade moderna.
O meu último destaque não é tanto dirigido ao livro, mas à ciência em geral. Nos tempos que vivemos, a força da crença irracional, o negacionismo, o erro político de manter a esperança nos extremismos populistas ocupam um destaque social crescente. O recente livro da dupla portuguesa Carlos Fiolhais e David Marçal é mais que um livro apenas sobre a pandemia. É um livro que mostra os erros que se comete constantemente na avaliação dos acontecimentos. Mas é um livro que tem o foco na importância capital que a ciência tem nos nossos dias e no impacto que acaba também por ter nas nossas vidas. Mas como a ciência é contraintuitiva talvez afaste as pessoas do que ela é e como funciona. Por isso estes livros são tão importantes. Porque este ano de 2020 é, para mim, definitivamente o ano da ciência. E o meu maior destaque de 2020 vai mesmo para a ciência.
Em 2021 continuarei certamente a ler livros de 2020. Alguns estão aí em lista de espera. Haja saúde e paz.
Outros Best Of meus: AQUI e AQUI